A Encruzilhada
O ar está carregado. Fulgurante. Ar ardente.
Fico à espera dos espíritos que hão-de vir.
Lembro-me bem daquela noite. Cada toque dos tambores parecia ser uma resposta para cada batida do meu coração, e o coração esforçava-se como podia para não ficar atrás do ritmo. Tropeçou e perdeu o rasto dos bombos logo no início, quando as baquetas começaram a açoitar a pele estendida nos tambores num frenesim que acelerava. Logo que o fogo e os cantos alcançaram o céu, a multidão preta formou um círculo em volta das chamas. E à luz da fogueira vi a fome que tinham impressa nas caras. Precisavam do ritual. Precisavam de que os espíritos entrassem neles, montassem-nos, tomassem o controlo. Homens brancos, hordas e hordas de homens brancos, tinham sido vistos nas costas do Daomé, e tinha chegado o tempo de consultar os loa. Cada loa era um antepassado, cada loa tinha um laço com o Deus que tinha criado isto tudo. Espalhadas em volta da fogueira havia inúmeras cruzes e linhas de farinha, sinuosas, a zigzaguear pela terra. Aqui onde estou agora, chamam-nos vévés, emblemas que invocam os espíritos do outro mundo. Naquela noite, a farinha entrelaçava-se com o sangue dos animais sacrificados e oferecidos aos loa.
Cada homem, cada mulher que espreitavam agachando-se em volta da fogueira, cada um estava à procura de algo. Um rapaz da minha tribo estava a arranhar o ar, suplicando por uma consulta com a sua família, massacrada na ladeira de um monte havia vários anos por uns assassinos que nunca foram condenados. Aos meus pés, um velho corcunda troncudo estava deitado com os lábios a remexer no chão, a sussurrar palavras de vingança e maldição. Alguns procuravam a justiça, outros a força, outros ainda procuravam ser livres da dor. As súplicas eram mais sombrias e mais guturais do que o normal; muitos pediam o conselho dos loa da guerra e do assassínio para afastar os invasores.
E alguns procuravam algo que não sabiam o que era e a quem podiam recorrer para o encontrar. Eu era daqueles últimos.
O ritmo dos bombos tornou-se mais sinistro. Os tocadores estavam escondidos, martelando os grandes tambores. Do outro lado da fogueira chegava o som de ossos a baterem contra ossos, recolhendo o mesmo ritmo e tornando-o seu próprio. Pelo canto do olho, vi um sacerdote com um grande colar de raízes a lançar a cabeça para trás, levantar uma tigela de líquido com ambas as mãos e abrir a boca para o receber. O caminho para os deuses. A música ecoou contra as minhas costas quando me aproximei do curandeiro. Arranquei o vaso das mãos estendidas dele.
A água preta atingiu a minha garganta. Tremi. Era como se uma navalha estivesse a deslizar para as minhas vísceras.
A dor paralisou o meu corpo. O cheiro do mundo mudou de uma forma que nem consigo descrever. Rostos contorcionados. Sons a vibrar sem ordem nem harmonia, formas estranhas a brotar lá onde antes não as havia. Eu já fazia parte da música. Éramos indistintos. O ruído dos batuques passou para dentro e confundi o bater do coração com o do tambor. Girava e girava e sentia a poção a penetrar nas veias. A dor era inimaginável. Era a dor que sente um condenado quando o metem num barril cheio de lâminas e o mandam para o pé da colina. Era a dor do machete. Era uma dor cristalina. Senti a fogueira a aproximar-se de mim, ou eu dela.
Salta. Agora. Já.
Saltei. As chamas acolheram-me.
Morri.
Morri? É, morri. Certo. Escuridão e silêncio. Mas o ar tinha mudado. O ar não muda na terra da morte; desaparece. Dei-me conta de que os meus olhos estavam a acostumar-se à escuridão e que em volta havia contornos que se esforçavam por se destacar. Os retumbos da cerimónia ainda ficavam nos ouvidos, um ou outro estalido de lenha penetrava o ar. Passo a passo comecei a ver as minhas extremidades, estranhamente sem queimadura que se visse na superfície da pele. Estava numa sala grande com um tecto baixo de que se projectavam pequenas raízes. Havia caminhos, caminhos por todo lado, caminhos de cinza, cor de carvão, pretos e ainda mais pretos. Alguns levavam directamente a um dos portais que discernia lá ao longe, outros serpenteavam sem eira nem beira antes de afundar-se no negrume.
O meu caminho terminava num raio de luz a iluminar uma janela na infinita parede da vivenda. Dei um passo. Logo um outro. De repente uma figura apareceu do meu lado da janela e dei um pulo para trás. Esbarrei com as costas numa porta de madeira no meio do chão, uma porta que não se abria de nenhum dos dois lados. Aproximei-me do vulto. Era um velho barbudo com o rosto escondido debaixo de um chapéu de palha de aba larga. Apoiava-se num bastão, rudemente esculpido. O seu cachimbo acendia quando aspirava, mas não deitava fumo nenhum. Um cão estava deitado ao pé dele com a cabeça posta no chão. Acima da janela havia uma cruz escarlate com quatro línguas, bordada na madeira.
“Que lugar é este?” perguntei.
Demorou a responder, sempre a olhar pela janela. “Em função do que procuras, pode ser a tua salvação, a tua sepultura ou a tua nova morada.” Aspirou e deixou sair um fumo invisível. “Há muitos que vêm cá e batem na porta. Poucos me dão a vontade de abrir.”
“Foi você que abriu aquela porta?”
“Se fui eu, é porque julguei boa a razão pela qual vieste.”
“Não conheço a razão pela qual vim.”
“Eu sim. Se tivesses batido sem o teu coração procurar algo, deixava a porta fechada.”
“Qual o caminho que tenho de escolher?”
Pela primeira vez, o velho olhou para mim. Apenas conseguia distinguir um olho branco puro e um outro, mais preto do que a calada da noite. Agarrou no bastão e tocou na parede com a ponta. Milhares e milhares de tábuas apodrecidas caíram com um estrondo que nem uma barraca de palha. A parede esbarrou num chão poeirento. Estávamos numa planície parda e castanha, com uma clareira no centro que acolhia uma imensa coluna de madeira a arranhar o céu, lá onde a vista já não chegava. De algum lado chegava o som abafado dos tambores.
“Eu estou cá para te mostrar os rumos. Mas quem escolhe és tu.”
Na clareira, os caminho já não eram sinuosos. Todos partiam do centro como os raios do Sol, directamente para um destino indicado somente pelos emblemas impressos na terra preta de cada um. Percorri o círculo de estradas carbonizadas, arrastando as pernas. Uma volta… duas… três. Na terceira volta vi dois rumos, um ao lado do outro, que não estavam lá antes. O primeiro tinha como emblema uma cruz sobre um pedestal, flanqueada por dois caixões. O segundo – o que parecia ser um coração com linhas ondulantes a entrar nele.
Não sei o que é que me levou por aquele último. Ainda hoje, perante este altar defunto, não sei. Sei porém que me atraía de maneira tão forte que o velho espectro do cachimbo fantasmal desapareceu do meu pensamento. Fui cegamente na direcção que indicava a estrada.
A planície dos dois lados do caminho estava deserta. Pardo, tudo pardo. Sempre em frente, sem olhar para trás. Havia lá montes e desfiladeiros, e o caminho, ao princípio recto como a haste de uma seta, começou a transformar-se debaixo dos meus pés, elevar-se, cair, conduzir-me caoticamente da esquerda para a direita e no sentido contrário. O terreno mudava que nem um enorme bloco de cera, moldado e espremido por uma mão ainda maior. Chegava ofegante ao pico de uma ladeira de carvão e deslizava sem querer pela montanha de lama que sempre estava do outro lado, uma montanha íngreme que parecia afogar-se na terra e penetrar no além-mundo. A paisagem flutuava junto com a estrada: floresciam açucenas repentinas rodeadas de borboletas e os aromas da primavera, mas logo caíam mortas e murchavam depois de eu passar, substituídas por destroços de pedra e lenha a arder. E depois cheguei a um lugar onde o frio perfurava a pele e esburacava os pulmões. Olhei para os pés. Estava na encruzilhada do meu caminho com um outro, e os dois logo seguiam como um só, recto, rectíssimo, já sem nada em volta. Esta nova estrada tinha dois emblemas. Reconheci ambos. Um coração com curvas entrelaçadas. Uma cruz num pedestal com dois caixões ao lado.
Não havia outra hipótese. Empreendi o caminho. Fazia frio. Oh, que frio fazia.
Jan Rydzak
Jan Rydzak


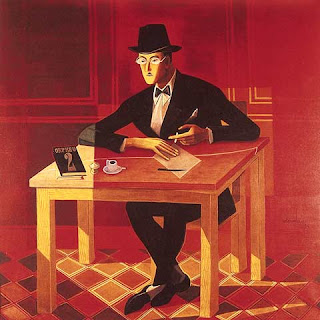
Comentários
Enviar um comentário